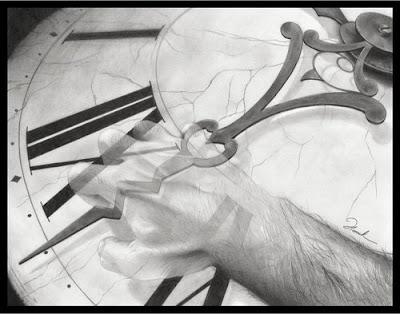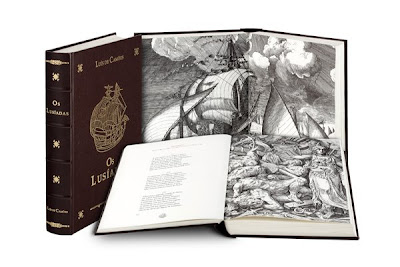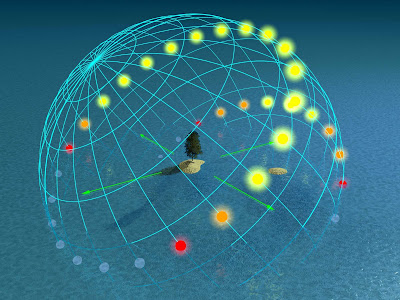Tem alma reclusa, dessas que se basta ao sentar e ler um livro em vez de sair, tomar cerveja no calorão da cidade. Os amigos não entendem e por não compreenderem pararam os convites para as noitadas. Só de ano em ano, aniversário, confraternização de natal é que se lembram de convidar-lhe. Cinema no mais das vezes vai sozinha que a companhia não é companhia para as horas que ela pode e também porque não é mais riso pra ninguém. A turma, a outra, é bem mais animada.
Há dias em que pensa que é melhor usar uma capa de invisível e passar pela vida sem ser vista. Mas, é teimosa e insiste
Já tentou, bem que tentou se livrar dessa sensação, mas não conseguiu. Festa de casamento, nascimento de filho, enterros, formatura, tudo que junta gente só lhe faz aumentar a dor de se saber só. Quando adoece, adoece por inteiro, começando na cabeça e num crescendo pelo corpo que lhe diz que a solidão interna é mais forte e perene. É um diacho de vida.
Não sabe, e olha que faz tempo que nisso pensa, se escolheu viver assim ou se foi escolhida. Se foi escolhida, foi muito azar entre tantas gentes; se escolheu, é bem mais doida do que se pensa. Às vezes até que gosta porque não precisa dá satisfação a ninguém, esclarecendo isso, aquilo, explicar cansa. Às vezes aumenta a dor a uma dimensão que somente a teimosia lhe sustenta.
Outro dia, discutindo com uma amiga, esta lhe disse que o que ela chama de teimosia é apenas fé, a simples e velha fé pregada em todos os púlpitos que não mais freqüenta. Não concordou nem discordou da amiga, pois nem isso valia a pena. Aliás, bem pouca coisa vale a pena, aceita com uma dor indiferente as coisas que vão passando, ficando, passando, assim tipo navegar é preciso, viver não.
Esse estoicismo só é verdadeiro para quem não a conhece, pois na reclusão da alma sofre feito condenada por ser só.
Nem sabe mais as contas que fez enumerando as vezes em que fica em casa sábado, domingo, semanas à noite sem que o telefone toque uma única vez. A telefônica só lhe ver o dinheiro da assinatura básica e nem esses minutos são gastos. É claro que podia telefonar. E já o fez. E escutou que fulano tava doente, que sicrano tinha acabado o namoro e tava na maior depressão, que outra vivia no céu porque arranjara um namorado virtual, que Miguel isso, Noêmia aquilo, que todo mundo tava com problema, mas saía sempre para afogar as mágoas nos copos, nos corpos.
Como todo mundo ela também tem problemas, e eles estão se escondendo nas folhas dos livros que lê, na limpeza obsessiva que criou em casa – não pode ver poeira, nos seriados que na tv assiste, nas conversas – poucas – que mantém com alguns – poucos – estão escondidos até da pessoa que ama. Tá certo que essa pessoa nem se sabe tão amada, acha apenas que é um amorzinho de ocasião. Mas não, ela sabe que é o amor pra toda a vida, possivelmente o último amor que terá. Tem até ciúmes, ciúmes da exuberância do outro – que não acompanha, ciúme disfarçado, mal, que, no entanto, não atrapalha.
É de uma incoerência gritante ao expor o que sente, porque só fala bem sobre o que pensa. E pensa, repensa, é uma verdadeira roda gigante de palavras. Quando trabalhava – ainda trabalha, um pouco menos, mas ainda sim – encantava os colegas com os raciocínios rápidos, as informações atuais sobre quase tudo, até mesmo sobre o conflito no Oriente Médio. Hoje ainda se mantém informada, mas não tem ouvintes; quando tenta numa roda de conversa falar um tanto sobre as religiões que consagram Jerusalém, sobre a menina que roubava livros, ninguém nem ouve, querem lá saber. Só falam de novelas, big brother, a última briga da Piovani e coisas e tais.
É um caso perdido. Mas, de teimosia vive. E achando pouco, ama.